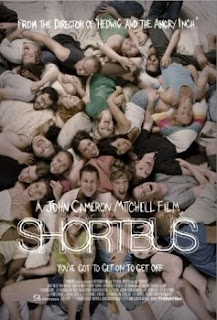Prometi a mim mesmo que não dedicaria muitas linhas por aqui em relação à música, assunto que já me ocupa 7 dias por semana. Mas, realmente, não dá pra evitar quando tantas mentiras tomam conta do noticiário e são exaustivamente repetidas no piloto automático.
São exatamente 18:38. Na tv a cabo aqui de casa existem basicamente 4 canais relacionados à música: MTV, MTV Hits, VH1 e Multishow (TVZ). No primeiro, passa algum programa sem graça; afinal pra que música no canal que nasceu pra isso?! No segundo um clipe de Hip Hop. O artista nem sei quem é, preciso esperar até o final do clipe. Mas perco a paciência e mudo pro Multishow. Novamente Hip Hop. Só que desta vez, consigo ao menos saber que é do Akon. Preferia Kanye West ou Lupe Fiasco; conseguem ao menos prender a minha atenção. Mudo pro único que falta: VH1. Rola uma playlist dominada por clipes cafonas da década de 80 sobre o tema casamento. Quem ouve Antena 1 e JB FM aqui no Rio se deliciaria.
Penso em desligar a TV, já que algumas perguntas ficam na minha cabeça:
1) Em que momento mesmo esse tal "Hip Hop" dominou o pop do Brasil e dos EUA?
2) Em que momento passaram a chamar de Hip Hop, um gênero que surgiu nos anos 70 em Nova Iorque repleto de crítica social e que nos deu tantos spin offs maravilhosos como a break dance e principalmente o grafite, se tornou um inventário de fascistas machistas (até trava a língua!) e de exaltação ao consumismo e ao vazio?
3) Desde quando as emissoras e as rádios assumiram que todo mundo gosta disso e que devem, portanto, dedicar grande parcela da programação ao gênero?

Esta última pergunta, aliás, é a mais fácil de responder. Ouvi da boca do diretor de programação de uma das maiores redes de rádios pop do Brasil: "Às vezes acho que o público emburreceu".
Culpa do público... Sei...
Fato é que existe, sempre existiu e sempre vai existir uma parcela muito grande desse "público" que pauta o gosto musical pelo que está tocando no momento. É importante estar atualizado nas músicas, porque assim dá pra ser "in", confratenizar com os outros ou, quem sabe, até poder dizer: "Não conhece?! Peraí que vou gravar procê!". É o que o indie adora fazer, em maior escala. E, claro, quando a música toca na boate, dá pra saber de quem é e continuar dançando da mesma forma que dançava a anterior. Afinal, nesse "hip hop" atual, basta balançar o corpo levemente no ritmo que você dança o playlist da noite inteira.
O grande público, principalmente diante de tantas ferramentas, sites e acessos internéticos, que em teoria deveriam provocar o efeito inverso, o da diferenciação, da busca pelo novo, pode até ter emburrecido. Mas acho que não é por aí; a explicação é muito mais simples e não envolve público: o mercado da música se afunda na mediocridade. E nem estou falando das gravadoras. O assunto é mesmo com os meios: jornais e revistas, TV e, principalmente, rádio.
Segundo a lei da acomodação, por que investir em uma rádio rock (hoje absolutamente inexistente no Rio de Janeiro e em São Paulo), se uma rádio composta de pop e hip hop pode dar muito mais audiência e, conseqüentemente, dinheiro? Nesse contexto, seria, inclusive, espantoso existir uma rádio inteiramente dedicada à MPB (ou, na verdade, a uma parcela dela de fato) no Rio. Mas a surpresa se desfaz ao lembrarmos que consultórios médicos e elevadores precisam de alguma trilha sonora.
O médio domina a programação e os programadores. Mas estes se esquecem de um dado fundamental: o mediano, o que todo mundo aceita escutar ou ver porque não tem tempo ou não se preocupa em procurar outras coisas, muda sempre! Nos anos 80 e início dos 90, ele era dominado pelo rock, pelo pop romântico e pelo sertanejo. Na metade da década de 90, o pagode popular, o axé e o dance pop ganharam força. Hoje nem precisamos falar.
A parada de sucessos é cíclica. E quem ousa sai na frente para definir o comportamento de todo um grupo de jovens e adolescentes por vir. Como Newton nos lembrava com a física, existe ação e reação. Até a reação ser incorporada pelo mainstream e virar ação. Enquanto isso, não nos esqueçamos da internet, nossa maior aliada para descobrir coisas novas, de qualquer gênero musical, em qualquer registro.
*************************************************

Pra não dizerem que estou ranzinza, vai uma recomendação com muitos elogios. Ainda está em cartaz em alguns pouquíssimos locais no Brasil uma maravilha do cinema mexicano intitulada "Zona do Crime", ou "La Zona", no original, vencedor do Leão de Ouro de Melhor Filme de Estréia no Festival de Veneza de 2007. Ao lado de uma favela, na Cidade do México, existe um condomínio de alto luxo, cercado por altíssimos muros, intitulado "La Zona". Durante uma tempestade, um outdoor cai, quebrando parte de um muro e cortando a energia do condomínio. Dois homens e um adolescente da favela passam para outro lado para roubar alguns pertences. Mas a forte segurança do local age e mata os dois, sem conseguir evitar, porém, que um deles mate uma senhora. O adolescente, por sua vez, fica preso no condomínio.
É aí que entendemos o que realmente está por trás desse cercadinho de luxo: um grupo de pessoas assustadas e que são capazes de tudo, tudo mesmo, para manterem seu padrão de vida. Quase como os vizinhos do apartamento da protagonista de "O Bebê de Rosemary". As decisões são tomadas em conselho, como em qualquer cidade sinistra de filme de terror, a polícia precisa de mandado judicial para entrar no local, a liberdade de agir e punir com as próprias mãos é plena.

E a forma como o diretor Rodrigo Plá articula os diferentes protagonistas (os adolescentes do local, os homens, as mulheres quase sempre donas de casa, a mãe do adolescente perdido que o procura, a namorada dele, o policial violento que quer desmascarar a corrupção no condomínio) é absolutamente brilhante! A caça dos "adultos" ao adolescente escondido, o quanto os filhoes deles emulam ou repelem o comportamento deles, a amizade de um deles com o foragido, os mecanismos corruptos da polícia. Tudo isso, envolto em belíssimas atuações, faz de "Zona do Crime" um filme absolutamente contundente, tanto em forma, no seu misto de suspense com tragédia, quanto em conteúdo.
Assusta ainda mais quando percebemos que uma história a princípio tão complexa é tão impressionantemente real e atual.
Tá logo ali na esquina.
*************************************
"Skins" acabou mês passado. E como acabou bem... Vai ser difícil uma série direcionada ao público adolescente alcançar o altíssimo nível que ela estabeleceu. Dizem que já estão produzindo versões da série na Espanha e nos EUA. Era de se esperar.